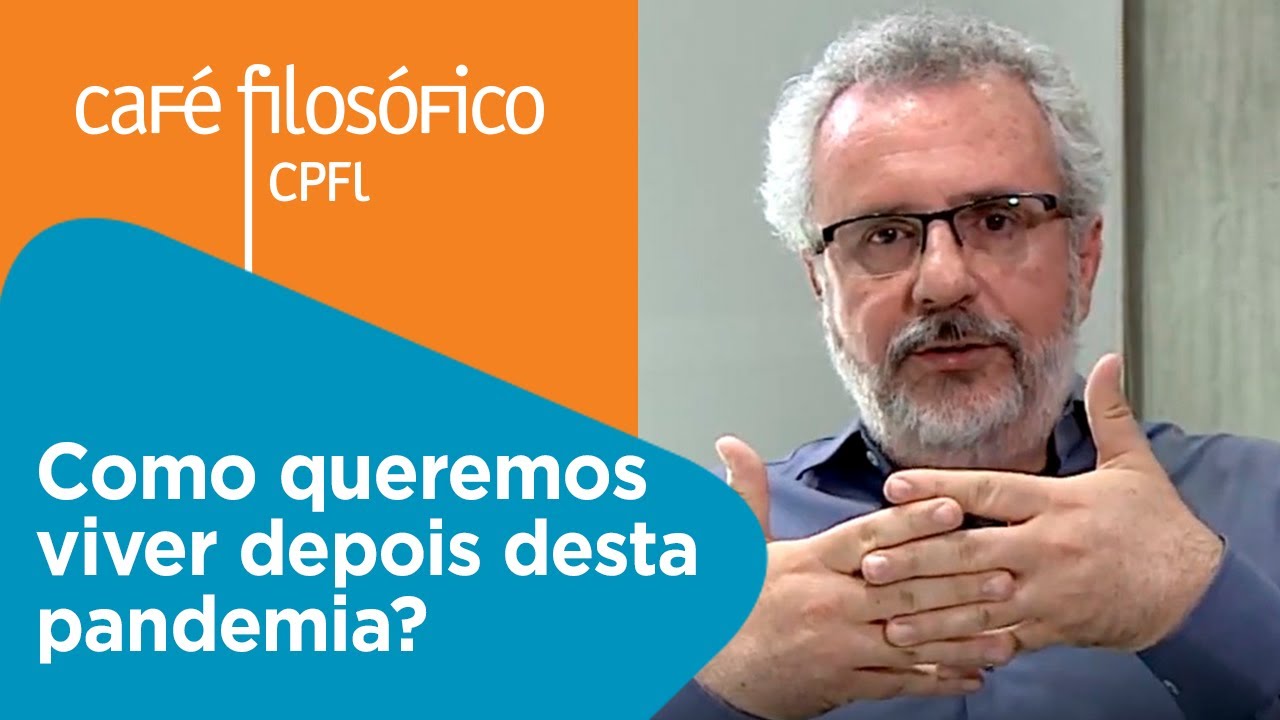Quando às 17 horas do dia 18 de dezembro, os monitores do Bella Center, em Copenhangue, anunciaram que não haveria foto oficial dos chefes de estado, apenas confirmei a suspeita que me acompanhou durante toda a semana e que se consolidou com o discurso indiferente de Barack Obama: a COP 15 acabara sem nenhum resultado, jogando por terra as esperanças de bilhões de pessoas na construção de um acordo para salvar o clima do planeta.
O acordo de Copenhague não é um protocolo, muito menos uma decisão da Conferência das Partes das Nações Unidas—tanto assim que, constrangida pelo fracasso do processo, a organização sequer quis afixar sua logomarca ao documento. Ele nada mais é, portanto, do que uma carta de intenções. Boas, mas muito vagas, exatamente como convém a textos que nasceram para não serem levados a sério. Sobre a temperatura, o documento se digna a “reconhecer” o óbvio: a necessidade de enfrentar o aquecimento global para evitar aumento superior a dois graus Celsius, considerado ponto de inflexão na curva de estabilização do clima.
Propõe que os países ricos, apontados no Protocolo de Kyoto como os principais responsáveis pelo quadro de alterações climáticas, apresentem propostas nacionais de corte de emissão de carbono até 2020. E que os emergentes e pobres, bloco onde se encontra o Brasil, estabeleçam metas nacionais sem, no entanto, o compromisso internacional de implementá–las. Isso mesmo! Em relação a financiamento, compromete as nações desenvolvidas a investir U$ 30 bilhões num fundo de curto prazo –até 2012 – para apoiar os países pobres na adaptação aos efeitos do aquecimento global, ampliando este montante para US$ 100 bilhões anuais até 2020. O documento ficou muito distante do acordo que se esperava, com metas de redução de emissões mais ousadas.
Alinhavado pelos negociadores e chefes de Estado de EUA, Brasil, China, Índia e África do Sul. Este texto contou com a aprovação da União Européia, Canadá e Austrália (dois países tratados como vilões do clima antes e durante a COP 15), Japão e países africanos, exceto o Sudão. O pequeno e barulhento Tuvalu (suas manifestações chamaram a atenção nos corredores do Bella Center), Nicarágua, Cuba, Venezuela e Bolívia não quiseram assinar o documento por considerá-lo uma peça forjada para manter os interesses econômicos dos países mais ricos.
Na prática, o “acordinho” não obriga a nada. É um arremedo “informativo”. Os 192 países ficam liberados para formular suas próprias metas ou até abrir mão delas se julgarem mais adequado. Na teoria, as negociações seguem. Há um encontro marcado pelos europeus, para a cidade de Bonn, na Alemanha. A COP 16, marcada a princípio para dezembro de 2010, na Cidade do México, pode ser antecipada para tentar diminuir a impopularidade de alguns líderes tidos como responsáveis pelo fracasso da Convenção do Clima –Obama entre eles – e também a sensação de impotência que tomou conta do mundo ante a derrubada das altas expectativas em torno do encontro de Copenhague.
Não seria exagerado afirmar que a COP 15 naufragou por causa do chamado G2 – a reunião dos mais poderosos do planeta, China e EUA. O discurso de Barack Obama na última plenária dos países lançou por terra qualquer perspectiva de acordo. Até a entrada do primeiro presidente negro dos EUA, no grande auditório do Bella Center, exatamente ao meio-dia do dia 18 de dezembro, havia alguma expectativa de que ele pudesse surpreender o mundo com uma guinada nas propostas apresentadas por seus inflexíveis negociadores nos 10 dias anteriores. Ele não surpreendeu.
Com um discurso burocrático, meramente protocolar, apenas confirmou o que já se sabia: os EUA não aumentariam sua proposta de reduzir em 17% as emissões de CO2 tendo como base o ano de 2005 (pífios 4% se considerado o ano base de 1990). Todo mundo queria 40%. E ficou querendo. Sobre os recursos para um fundo de apoio aos países pobres, também conhecido como Fundo Verde, afirmou vaga que o seu país contribuiria, sem, no entanto, dizer qual o valor e de onde viria o dinheiro para o donativo. Mais do que isso, de modo arrogante, condicionou o apoio à redação de um acordo de interesse dos norte-americanos e não do mundo.
O que ele queria, a rigor, era responsabilizar mais a China e alguns países emergentes, obrigando-os a seguir as mesmas regras impostas aos países ricos. E o argumento utilizado para melar o acordo foi “cobrar transparência” da China. Vale explicar: Obama defendeu o documento da Conferência de Bali, redigido há dois anos, no qual se decidiu que os países emergentes teriam que se comprometer a adotar medidas “mensuráveis, reportáveis e verificáveis” para comprovar a eficácia de suas ações de combate ao aquecimento global.
A China tinha outro entendimento. Para ela, essas medidas só seriam válidas para ações financiadas com dinheiro externo. O que Obama chamou de transparência, Wen Jiabao, o premiê chinês, classificou como atentado à soberania nacional. E assim, de modo conveniente para as duas partes, o acordo capotou na curva a despeito do esforço diplomático de outros líderes –como Lula, Sarkozy, Merkel e Brown—e da presença inédita de 130 chefes de Estado de todo o mundo.
Por que conveniente? Obama, na verdade, não quis se indispor com o Congresso americano, onde tramita uma proposta de descarbonizar a economia norte-americana, justamente num momento em que a economia de seu país começa a sair da crise que abateu o planeta em 2008-2009. Assumir compromissos mais ambiciosos de corte de emissões—sem a equivalência de uma proposta chinesa — poderia ser visto, no âmbito doméstico, como atitude contra os interesses nacionais, coisa que empurraria para baixo a popularidade já não tão alta do presidente dos EUA. Para a China, o adiamento de um acordo significa mais tempo para fazer negócios na velha economia, não tendo que arcar já com os altos custos da mudança para uma economia de baixo carbono.
O mundo, infelizmente, assistiu impotente a essa encenação, da qual se podem tirar três conclusões importantes. A primeira é que sistemas de discussão multilateral como o que prega a ONU, baseados na construção de consensos, não funcionam mais para assuntos que envolvem grandes interesses econômicos. Prevalecerão sempre os dos mais poderosos, ainda que a custa da qualidade de vidas das próximas gerações. Nesses embates, os argumentos econômicos se sobrepõem aos éticos. A segunda conclusão é que faltam líderes estadistas, nos governos e nas empresas, programados a partir de novos modelos mentais que consigam equilibrar resultados econômicos com respeito ao meio ambiente e justiça social. Há líderes velhos demais para um mundo novo demais. E a transição na formação de novos perfis exige rapidez.
A terceira conclusão, mais dura, é que os cientistas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU têm razão quando afirmam que, pesarosamente, os líderes atuais só vão começar a agir quando os trágicos efeitos das mudanças climáticas começarem a bater na porta de suas casas.
Em próximo artigo, vou escrever sobre quem ganha e quem perde depois da COP 15 e o novo mundo que vai resultar pós-Copenhague.